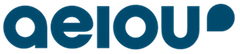Luísa Sobral: “Quando se tem só um filho, parece que não há tempo para nada. Hoje tenho quatro e tenho imenso tempo”


Podcast
Com o primeiro romance, “Nem Todas as Árvores Morrem de Pé”, nas lojas, Luísa Sobral veio ao Posto Emissor falar sobre a inspiração do seu livro, mas também sobre a sua relação com a fé e a forma como recentemente passou a ver a morte. O festival Sónar, a ‘festa’ dos Blasted Mechanism, música nova e os concertos dos próximos dias fazem também parte do podcast desta semana da BLITZ
Luísa Sobral é a convidada desta semana do Posto Emissor, podcast da BLITZ. A artista falou com Lia Pereira sobre “Nem Todas as Árvores Morrem de Pé”, o seu primeiro romance, editado este ano.
A inspiração do livro, que a autora encontrou numa história verídica passada em Vila Real, onde um casal de idosos alemães se suicidou em conjunto, foi um dos temas da conversa com a cantora e compositora.
A ligação de Luísa Sobral com a religião e a fé, a forma como encara a morte – e que mudou depois de começar a fazer voluntariado numa unidade de cuidados paliativos -, a recente viagem à China e o dia em que escreveu ‘Amar pelos Dois’, canção que, na voz do seu irmão Salvador Sobral, ganhou o Festival da Eurovisão em 2017, foram também abordados.
No episódio nº 233 do Posto Emissor, falamos ainda sobre o primeiro fim de semana do festival de Coachella, música nova, o festival Sónar e a festa de 30º aniversário dos Blasted Mechanism, que tiveram lugar no passado fim de semana, e os concertos da próxima semana completam o podcast desta semana.
Ouça aqui edições anteriores do Posto Emissor: