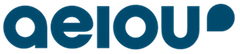O acordo comercial entre os EUA e a UE


“O acordo cria certeza em tempos incertos”, disse Ursula von der Leyen, após a conclusão das negociações que fixaram uma tarifa aduaneira transversal de 15% para as exportações europeias e de 0% para as exportações americanas. Num primeiro momento, o único modo de justificar um resultado tão assimétrico como este foi recordar possibilidades mais gravosas. Podia ter sido pior foi o suspiro de alívio de alguns destacados representantes europeus, desde o Comissário para o Comércio, Maros Sefcovic, até ao chanceler alemão, Friedrich Merz, para quem as preces dos produtores alemães de automóveis soaram a ordens. O Primeiro Ministro belga foi filosófico. Descreveu o desenlace como “um momento de alívio, mas não de celebração”. Outros não se contiveram com tanta ponderação. O chefe do governo francês, Bayrou, depois de uns dias antes alertar os seus conterrâneos de que a austeridade vinha a caminho para evitar um “cenário à grega”, declarou “um dia sombrio”, e não hesitou em usar a palavra “submissão”.
De facto, nem os recursos recentemente preparados pela Europa para responder à coerção comercial de outros países – o chamado “instrumento anti-coacção” – mostraram que têm dentes; nem as estratégias mais audazes de pressão sobre os americanos, como ameaçar estrangular a economia americana com a carestia de bens intermédios europeus, estratégia usada pelos chineses nas últimas semanas com algum sucesso, puderam dar um ar da sua graça. Entre as vítimas de tanto negrume, consta a Organização Mundial de Comércio cujas normas, em particular as respeitantes ao estatuto de Nação Mais Favorecida, vão sendo uma a uma enterradas.
Na verdade, como não conhecemos os detalhes da aplicação destas tarifas, nem o tratamento dos sectores que foram vagamente citados como excepções, ainda não sabemos a amplitude real das consequências deste acordo. Não sabemos que viabilidade têm os números que impõem à Europa aquisições de produtos energéticos americanos, num período de 3 anos, os mesmos que perfazem o mandato presidencial de Trump, na ordem dos 750 mil milhões de dólares. Nem da capacidade de a Comissão vincular o sector privado de 27 Estados-membros a investir nos EUA cerca de 600 mil milhões. Por um lado, em 2018 Jean-Claude Juncker, o então presidente da Comissão Europeia, já prometera a Trump aumentar em grande escala as importações de energia, em particular de gás natural liquefeito, para apaziguar a fúria americana. Sem efeito notável, diga-se. Por outro lado, quem verificou os números actuais, constatou que nada do que foi estipulado é cumprível. Até ao final deste ano, a União Europeia, no seu conjunto, importará dos EUA menos de 65 mil milhões, incluindo gás natural, petróleo e carvão. Seria necessário quadruplicar estas encomendas já a partir de 2026, e se tal fosse possível, dadas as restrições de infraestrutura americana (em 2024, os EUA exportaram não mais do que 165 mil milhões destes seus três tipos de produtos energéticos para o resto do mundo) e as necessidades energéticas europeias, haveria rupturas sérias nas relações com outros fornecedores – e não apenas com a Rússia que já devíamos ter penalizado há muito mais tempo.
Além do dano que este acordo nebuloso causará à economia transatlântica, estes aspectos mirabolantes reflectem duas coisas distintas, mas cada vez mais ligadas. Primeiro, uma concepção radicalmente performativa da política, quer interna, quer externa. Proclama-se o que se quer e a eficácia da proclamação produzirá o resultado pretendido, não sendo as condições objectivas da realidade suficientes para o fazer. Trump “triunfou”, e o “negociador nato” verga todos os que encontra pela frente – este é um dos elementos da nova mitologia política americana que parece querer cavar um abismo próximo onde se afogar.
Segundo, a fraqueza geopolítica da Europa. O tão desejado mundo multipolar tem destes inconvenientes: os espaços políticos que não acompanharem o desempenho económico, tecnológico, militar, cultural dos seus adversários, não conseguirão conservar a situação de preeminência e de superioridade a que se habituaram. Em todos estes planos, a Europa debate-se com dificuldades cada vez mais notórias. Com um crescimento anual da sua economia, fixando o ano de Julho de 2024 a Julho de 2025, de 1,4%, a EU vai ficando cada vez mais para trás relativamente ao desempenho americano e chinês.
Incapaz de se defender sozinha, de agir na sua vizinhança próxima sem a iniciativa dos EUA, a Europa fica à sua mercê em tudo o resto. Está na hora de a Europa resistir à tentação de se dispersar por objectivos políticos cada vez mais numerosos. A alternativa é concentrar-se naqueles que poderão voltar a conferir-lhe poder e estatuto geopolíticos. Mais e mais objectivos políticos, e outras tantas competências burocráticas, apenas vão distraindo do essencial e entorpecendo a capacidade de agir. Não há nada de muito novo aqui: a reforma do mercado único e uma união dos mercados de capitais; o investimento em defesa; a travagem da degradação institucional e do esboroamento cultural das sociedades europeias. São tarefas prioritárias para todos os que não querem apenas fazer da política uma procissão de lamentos. Os sinais de alarme estão todos a soar e o capital político para levar a cabo transformações necessárias nestes domínios não é infinito. É preciso usá-lo bem e com critério.