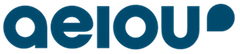A minha Moral é Superior à tua (2)


1 Sou liberal e de direita. Estas reflexões – a minha moral é superior à tua – resultam de preocupações sobre o confronto entre morais e as consequências da opção populista e religiosa da direita.
Devido aos seus receios de perda de identidade, a esquerda optou por permanecer no limbo. Por isso, não vale a pena perder tempo. Com Marx a esquerda optou pela crença e por uma suposta superioridade moral. Desde então, as diferenças não passam de meros facelifts que não acrescentaram nada. Na essência, a esquerda faz sempre a mesma coisa. Os novos temas não passam de mais uma vã tentativa de recuperação da utopia marxista pela instrumentalizando a superioridade moral. Seja em que país for. Em Portugal, também, presentemente com Rui Tavares como principal tele-evangelista.
Como a dita superioridade moral da esquerda não tem valor, nem fundamento, e falha sempre, a promoção da superioridade moral da direita irá resultar? Uma coisa é certa. Tal como no passado, as verdadeiras vítimas já estão a ser a verdade, a liberdade e a democracia. Para além do revisionismo histórico da esquerda, agora também temos a relativização populista da direita.
2 Hannah Arendt, no seu texto de 1967, “Truth and Politics“, afirmou que “a marca distintiva da verdade de facto está em que o seu contrário não é nem o erro nem a ilusão, nem a opinião, nenhuma delas tendo a ver com a boa-fé pessoal, mas a falsidade deliberada ou a mentira”.
A verdade e a política nunca tiveram boas relações. Ao longo da História, a mentira foi encarada como um instrumento necessário, por vezes até legítimo, na gestão dos assuntos públicos. Em certos contextos – desde que não sirva interesses pessoais ou partidários – pode revelar-se inevitável. No entanto, como regra geral, é moralmente inaceitável. Lamentavelmente, para além da mentira, enfrentamos hoje a desinformação, que parece ter-se tornado o modus vivendi habitual da direita.
Antes de discutir as implicações da mentira e da desinformação, importa sublinhar que o comportamento e os processos mentais resultam sempre de uma escolha individual. Essa escolha pode, posteriormente, ser adoptada por um grupo, sendo bastante provável que o exemplo do líder estimule e amplifique essa conduta.
Ninguém é 100% moral ou verdadeiro – essa perfeição está vedada pela própria natureza e pela condição humana. Até por amor se mente. Mas creio que todos somos, inevitavelmente, 100% humanos. Por isso, o que nos distingue é a decência e a capacidade de aprender com os erros. Optar pela mentira afasta-nos dos factos que compõem a realidade e empurra-nos para narrativas ilusórias. É essencial distinguir entre um sonho e uma ilusão. Entre ambos há uma distinção de substância.
Vivemos na realidade – e é ela que sofre com as decisões dos nossos políticos e governos. Quando praticada por políticos, a mentira ganha uma gravidade e impacto muito maiores. É comum que moldem factos e narrativas conforme os seus interesses pessoais ou partidários, mas deturpar a verdade nunca serve o bem público.
Hoje, o discurso político está infestado de falsidades, falácias, desinformação e retóricas moldadas à conveniência – que depois são amplamente disseminadas e normalizadas. Esta distorção da verdade prejudica a democracia e mina a confiança dos cidadãos, que acabam por ser os principais lesados pelas manipulações dos seus representantes. O Chega é o partido que o faz.
3 A direita e o conservadorismo tiveram um fulgor renovado com Margareth Thatcher, Ronald Reagan e George H. W. Bush.
Margareth Thatcher – conservadora primeiro, liberal depois – foi efectivamente uma pessoa de convicções. Basta, por exemplo, recordar que se opôs à posição do Partido Conservador quando este queria restaurar a sova como um castigo corporal judicial (1961), apoiou a manutenção da pena de morte e a rigidez das leis do divórcio. Porém, também apoiou a descriminalização da homossexualidade masculina e a legalização do aborto até a 28ª semana de gestação.
Thatcher abandonou a habitual política económica dos conservadores introduzindo e acentuando práticas mais liberais. Rompeu com o tradicional apoio dos conservadores à indústria e modernizou a economia britânica tendo sido capaz que atrair votantes trabalhistas.
Esta nova renascença da direita foi muito bem exposta por Thatcher na sua comunicação à Sociedade Económica de Zurique (1977), definindo como sociedade moral uma sociedade onde as pessoas podiam ser livres para fazer escolhas, cometer erros, ser generosas e compassivas – “We want a society where people are free to make choices, to make mistakes, to be generous and compassionate. This is what we mean by a moral society; not a society where the state is responsible for everything, and no one is responsible for the state.” Ora, hoje, a direita populista e religiosa não defendem nada disto.
A presidência de Reagan coincidiu com a ascensão da Nova Direita – uma coligação de activistas conservadores, líderes religiosos e figuras anti-establishment. A sua retórica e políticas – cortes fiscais, desregulamentação, forte anticomunismo e defesa dos valores tradicionais – ressoaram junto de grupos de extrema-direita, como a Maioria Moral e os primeiros movimentos libertários.
Reagan conquistou o apoio dos cristãos evangélicos, que se tornaram uma base fundamental do Partido Republicano, através da sua oposição ao aborto e da defesa da oração nas escolas. No entanto, o seu pragmatismo político por vezes frustrou a extrema-direita.
George H. W. Bush herdou a coligação construída por Reagan, mas enfrentou tensões mais acentuadas com a extrema-direita. A sua inclinação para o centro e para o bipartidarismo alienou tanto conservadores como populistas religiosos.
Figuras como Pat Buchanan e Newt Gingrich, que originaram movimentos posteriores como o Tea Party e o trumpismo, resultaram das tensões que foram acumuladas nas presidências de Reagan e de Bush, Sr. Porém, é de salientar que nenhum dos dois cedeu ao purismo ideológico da extrema-direita (a tabela seguinte sumariza os temas)
4 Reagan e Bush, Sr., mantiveram a linha de política externa norte-americana que vinha o fim da segunda guerra mundial e venceram a URSS. A defesa do comércio livre ajudou a esse fim. Nenhum dos dois toleraria ou aceitaria o que Putin fez na Geórgia, Crimeia e Ucrânia.
Não obstante oporem-se ao financiamento público do aborto, não se opuseram aos direitos ao aborto. A distinção era simples: o aborto não era uma questão pública e muito menos de política pública, mas antes de consciência individual e privada.
Por fim, ambos defenderam a secularização do Estado.
Aconselho a visualizarem o elogio fúnebre de Alan K. Simpson a George H. W. Bush. Pode ajudar a ver as diferenças com a direita contemporânea. Tal como estas palavras o farão: “He often said, when the really tough choices come, it’s the country, not me. It’s not about Democrats or Republicans; it’s for our country that I fought for.”
A direita conversadora e liberal que descrevi acima já não existe. Agora, há o moralismo religioso e populista, aliado aos interesses pessoais. E a superioridade moral da direita exige e impõe uma conduta de vida sem pecado.
Não surpreendentemente, tal como no passado, este tipo de moralistas não são exemplares. Costumam ser condenados por ocultação, abuso tráfico e turismo sexual de crianças, violação e sodomia de menores e até incesto. Dennis Hastert, Ralph Shortey, Tim Nolan, Ray Holmberg, Bradley Wayne Dixon, Charles Adcock e Joel Koskan são apenas alguns exemplos.