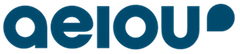O Dr. Azeredo Lopes e o Direito Internacional das conveniências


Nos corredores da diplomacia e nos media portugueses, há uma ideia que se repete como mantra: o reconhecimento de um Estado palestiniano é um imperativo moral e jurídico. O passe de mágica que tudo vai resolver.
Num debate televisivo em que participei, o Dr. Azeredo Lopes encerrou a conversa sobre o reconhecimento do Estado da Palestina com uma dissertação doutoral sobre a Convenção de Montevideu, de 1933. Fê-lo com o ar severo de quem carrega a verdade no bolso do casaco e, como foi o último a falar, não houve contraditório. O que deu muito jeito. Paciência. Aqui vai agora, porque a verdade resiste mal à ausência de confronto. E a argumentação curvilínea, sobretudo quando embalada em nuances e léxicos que a maioria das pessoas não entende, tem sempre aquele aroma a outra coisa.
O Dr. Azeredo Lopes é especialista em Direito Internacional (DI), o que, num país onde o estatuto académico substitui muitas vezes o pensamento, significa que pode dizer o que bem entender, e ser aplaudido como se estivesse a recitar Salmos. Salvador Sobral disse isso mesmo, a propósito de outro tipo de emanações.
É por isso que se pode impunemente invocar Montevideu para justificar o reconhecimento de um estado que não existe.
Quando um jurista respeitado como o Dr. Azeredo Lopes bate na mesa a carta de Montevideu, como se fosse o ás de trunfo, poucos se atrevem a contradizê-lo. O discurso soa técnico, imparcial e credível. Mas, como bem sabemos, o tom é muitas vezes o melhor argumento de quem fala com suposta autoridade, para o aplauso dos convertidos.
É precisamente essa autoridade e esse aplauso que urge questionar. Porque o que está em causa não é um debate técnico sobre reconhecimento estatal. É, sobretudo, uma tentativa de isolar, vilipendiar e castigar Israel. E, para isso, vale tudo. Inclusive torturar normas jurídicas, ignorar factos históricos e lançar insinuações morais embrulhadas em léxicos pseudolegais.
A Convenção de Montevideu, um mero acordo regional, lista quatro critérios formais para a existência de um Estado: população permanente, território definido, governo efectivo e capacidade de relações internacionais.
A Palestina não cumpre integralmente esses requisitos. Divide-se entre dois governos rivais, um deles uma organização terrorista jihadista, o outro um partido que se eterniza no poder, também sem eleições, e que nem sequer controla a parte do território onde está instalado. Tudo isto, diga-se, não por culpa de Israel ou vontade divina, mas por falta de vontade e incapacidade das próprias lideranças palestinianas.
Esta “Palestina” não tem fronteiras definidas, porque nunca existiu. E o seu reconhecimento internacional, por mais amplo que seja, não cria soberania ex nihilo.
Invocar Montevideu sem reconhecer estas realidades é liturgia jurídica e prestidigitação académica. Pareceu-me também que o Dr. Azeredo considerou que o reconhecimento do “Estado da Palestina” seria mais do que um acto político, dando a entender que é quase um automatismo jurídico. Ora a Convenção não obriga ninguém a reconhecer ninguém. O reconhecimento é sempre político. Ponto. Se fosse automático, Taiwan e Kosovo estariam na ONU. E o Saara Ocidental seria independente. Mas como o mundo funciona com vetos e interesses, só existe Estado onde há poder suficiente para o fazer valer.
A meio da sua intervenção, o Dr. Azeredo Lopes fez o que tantos outros fazem quando querem parecer imparciais, mas não conseguem conter o impulso de agradar à bancada dos virtuosos: atirou para o ar a palavra “genocídio”. Sem acusar directamente. Com aquele tom nonchalant de quem insinua o suficiente para que o trabalho sujo seja feito pelo espectador. “Desde que Israel não cometa genocídio”, disse, como quem deixa um fósforo aceso no meio de uma mata seca. E continuou, tranquilo. Não é preciso mais nada. A palavra fica a pairar. E com ela, a ideia de que Israel poderá, quem sabe, estar a praticar um dos crimes mais graves do léxico jurídico e moral contemporâneo. Sem uma única prova, sem um único dado. Só a palavra. Plantada como veneno. E deixada a fermentar.
Ora a definição de genocídio consta de uma Convenção de 1948. É clara e rigorosa: requer a intenção deliberada de exterminar, no todo ou em parte, um grupo nacional, étnico, racial ou religioso. Não basta que morram civis. Não basta que haja sofrimento. É preciso haver um plano. Uma ordem. Uma vontade de exterminar.
O Dr. Azeredo sabe que não há genocídio nenhum. Nenhuma intencionalidade. Nenhuma política de Estado. Nenhuma directiva militar. Nada, além de declarações exaltadas de dois ministros, típicas de muitas guerras. Não lhe importa sequer que o próprio TIJ, em 2024, tenha dito explicitamente que não concluía que houvesse genocídio. O Dr. Azeredo sabe. Por isso apenas insinua. E isso basta.
O que se passa em Gaza é uma guerra. Suja, difícil, prolongada. Mas legítima, segundo o Artº 51º da Carta das Nações Unidas. Não com os palestinianos. Com o Hamas, uma organização terrorista que assassina, viola, sequestra, chantageia, tortura. Que usa escolas para esconder e lançar mísseis, e hospitais para disparar e fugir para os túneis.
Inevitavelmente, morrem civis. Como morrem em todas as guerras urbanas travadas contra grupos que se escondem entre civis e se disfarçam. Morrem porque o Hamas os usa como escudos humanos. Porque aproveita e até fabrica cadáveres para manipular as percepções públicas do Ocidente, com a colaboração asnática dos media.
Israel faz o que mais nenhum Estado em guerra faz: avisa antes de atacar. Lança panfletos. Manda mensagens. Telefona. Cria corredores humanitários. Alimenta um inimigo declarado.
O genocídio não é sequer uma acusação: é uma senha de acesso. Uma forma de mostrar ao mundo que se está do lado “trend”. Mesmo que o conteúdo seja falso. Mesmo que a legalidade seja ignorada. Mesmo que a verdade seja sacrificada.
A palavra “genocídio” vai perdendo o seu valor e a culpa é daqueles que a usam como quem atira tinta contra uma parede, na esperança de que manche a reputação certa. E disso, já temos em excesso, até de decibéis.
Na análise do conflito, o Dr. Azeredo tratou a História como um incómodo. Foi recortada, empurrada para debaixo da mesa e substituída por indignação.
Comecemos pelos Acordos de Oslo. Ainda existem, embora moribundos. Nunca foram denunciados. Foram assinados por Israel e pela OLP, criaram a Autoridade Palestiniana (AP) e dividiram a Cisjordânia em três zonas. Todos as povoações legais israelitas estão na área atribuída ao controlo israelita. O Dr. Azeredo sabe isto e também não ignora o pequeno detalhe de que Israel reconheceu a OLP, aceitou um processo negocial faseado, retirou-se de zonas densamente povoadas e abriu caminho a um Estado palestiniano. E que Yasser Arafat deitou tudo por terra ao rejeitar uma proposta feita em 2000, sob os auspícios de Bill Clinton. Rejeitou-a sem negociar. Rejeitou-a sem contrapartidas. Rejeitou-a trocando-a por intifadas, que mataram centenas de civis israelitas. É daí que vêm os muros, aliás.
Na narrativa conveniente, os colonatos são o grande obstáculo à paz. Na realidade não são. A presença israelita na Área C não só não viola os acordos em vigor, como decorre deles. A própria lógica dos Acordos prevê que o seu estatuto final seja negociado. Nunca imposto.
Em 2000 (Camp David), e em 2008 (plano Olmert), Israel propôs retirar-se de 91% a 97% da Cisjordânia, incluindo desmantelar colonatos, com compensações territoriais. Em 2008, já Gaza era 100% do Hamas. A AP recusou
De resto a maioria dos colonatos está em zonas com que Israel ficará sempre, em todos os planos de dois Estados, com trocas de território equivalentes para os palestinianos.
O problema nunca foi a geografia. Foi sempre a política. Apontar os colonatos é uma forma fácil de culpar Israel sem discutir o Hamas ou a cultura de martírio, um desvio moral útil para os que querem parecer “equilibrados” e sinalizar virtude.
Na prática, os colonatos servem como desculpa para evitar aquilo que os palestinianos têm recusado desde 1947: partilhar a terra com um Estado judeu.
Portanto, os colonatos não são o problema. O problema é político. É ideológico. É existencial. O problema é que há um lado que quer paz, e outro que quer vitória. E enquanto isso não mudar, não haverá paz. Porque o que está em causa não é onde os judeus vivem. É o facto de que vivem ali e não se querem ir embora.
A certa altura, o Dr. Azeredo referiu que Israel tem “uma agenda de anexação da Cisjordânia”. Ouviu dizer. Não são precisas provas. A verdade é que Israel nunca anexou formalmente a Cisjordânia e já lá vão 60 anos. E não o faz porque seria um acto juridicamente problemático, provocaria uma crise diplomática com os aliados ocidentais e obrigaria a incorporar na cidadania mais de dois milhões de palestinianos. Isso seria o fim do modelo judeu e democrático.
Israel administra a região, não por expansionismo, mas porque sabe que a alternativa é o vácuo de segurança, o caos institucional e, inevitavelmente, o Hamas.
Relembre-se: A Cisjordânia não era território palestiniano em 1967. Nem nunca foi. Antes de 1948, fazia parte do Mandato Britânico da Palestina. Estava destinada a albergar um lar nacional judaico, segundo a Declaração Balfour e as resoluções da Liga das Nações. Passou a território árabe ocupado pela Jordânia que, aliás, a anexou. O termo “povo palestiniano” nem sequer constou do vocabulário da ONU até 1974. Israel ocupou o território num acto de defesa contra uma guerra de agressão. Não o anexou nem a Jordânia o quis de volta.
À luz do DI relevante, que exclui as resoluções não vinculativas do Capítulo VI da ONU, não está juridicamente estabelecido que territórios tomados num conflito defensivo não possam ser retidos ou negociados. A Rússia ainda hoje controla as ilhas Sacalinas (ex-Japão) e Kalininegrado (ex-Alemanha). E ninguém lhe exige que as devolva.
Portanto, a terra pode ser vista como “disputada” e a disputa só não se resolve porque a liderança palestiniana recusa, há décadas, qualquer acordo que envolva reconhecer Israel como Estado judeu.
Israel já ofereceu concessões históricas. Já aceitou partilhas. Já se retirou de Gaza. Já cedeu zonas na Cisjordânia. Já reconheceu a OLP. Já negociou com quem o queria destruir. Já fez mais do que qualquer outro país faria no seu lugar. Mas recusa-se a desaparecer.
A esquerda internacional e a manada “antissionista” exigem de Israel o que nunca exigiriam de mais ninguém: que ceda segurança em troca de promessas vazias, que arrisque a sua existência em nome da retórica e que aceite a ideia absurda de que é ocupante numa terra onde foi atacado.
E quando tudo o resto falha, invoca-se o “genocídio”, a “fome” e a “força desproporcionada”. Porque é mais fácil repetir slogans do que abrir mapas e livros. E mais fácil parecer virtuoso do que ser intelectualmente honesto.
Num outro momento o Dr. Azeredo Lopes invocou, com solenidade, o parecer do TIJ sobre a “ocupação” israelita. O parecer exige a retirada total de Israel dos territórios. Nem uma nota de rodapé sobre trocas de terra. Nenhuma menção aos Acordos de Oslo. Nenhuma referência à prática internacional comum segundo a qual territórios conquistados em guerras defensivas podem ser mantidos ou negociados
Fez-se silêncio. Afinal, quem se atreve a contrariar um tribunal com sede em Haia e belas togas? Bem, alguns juízes do próprio TIJ reconheceram a fragilidade da decisão. Falaram em ultrapassagem do mandato, parcialidade evidente e tentativa de transformar a corte num palco político. Claro que isso não impede ninguém de o citar como se fosse a nova Tábua da Lei.
Mas convém começar pelo óbvio: o parecer não é vinculativo. É consultivo. Uma opinião. E foi solicitado por uma maioria de Estados hostis a Israel. O TIJ não ouviu Israel, ignorou os Acordos de Oslo, ignorou a Resolução 242 da ONU (que prevê negociações e trocas, não retirada unilateral), e ignorou a origem do conflito. Mas leu os relatórios da ONU, feitos e votados por personagens tenebrosas, e da AP. O contraditório foi dispensado. Quem leu os votos dissidentes dos juízes sabe o que lá está: reservas sérias sobre a competência do tribunal, a falta de legitimidade processual, a parcialidade das fontes e a fragilidade da alegada “ilegalidade” da ocupação.
Vários juízes disseram, preto no branco, que a questão era essencialmente política, não jurídica; que Israel não deu consentimento ao processo; que não está claro que a Cisjordânia seja “palestiniana” à luz do DI; e que o princípio do uti possidetis juris pode até favorecer Israel, não a OLP, já que o território era de outro país que não a Palestina. Já agora, as fronteiras de 1967 são as linhas de armistício de 1949, não são sequer “fronteiras legítimas”.
Em suma, o parecer do TIJ é o que resulta quando um tribunal internacional se transforma em palco diplomático para Estados que não reconhecem Israel e muito menos o terrorismo palestiniano. Mistura moralismo com ignorância geopolítica, exige sem contextualizar, e escreve história alternativa à medida de quem controla os organismos onde se vota quem são os bons e os maus. O parecer do TIJ é juridicamente débil, e politicamente instrumentalizado. E o facto de ser brandido por académicos respeitados como argumento relevante, diz-nos tudo o que precisamos de saber sobre a seriedade do discurso contra Israel.
Mas por mais que citem o parecer, por mais resoluções que se empilhem, há um dado que não é possível mistificar:
Israel continua a existir e recusa suicidar-se para agradar à redacção da Al Jazeera, aos activistas do palestinianismo e ao Departamento de Deliberações Emocionais da ONU.
No fim, o que resta do discurso do Dr. Azeredo é um clímax moral: a confissão de que o reconhecimento do Estado palestiniano poderá não resolverá nada, mas “terá consequências para Israel”.
É esse o verdadeiro objectivo. Não é a paz. Não é a coexistência. É o castigo. Castigar Israel com pareceres jurídicos, condenações morais e resoluções simbólicas. Castigá-lo, mesmo sabendo que não há paz possível com o Hamas, nem unidade política entre os palestinianos, nem segurança sem acordos negociados na Cisjordânia. Castigar Israel por se defender. Por existir. Por não aceitar com resignação o futuro que muitos querem reservar-lhe.
E esso é o verdadeiro motor de tantas opiniões, ainda que aparentemente embrulhadas em academismos, sobre o conflito israelo-palestiniano. Não interessa a paz, mas sim hostilizar Israel, o judeu do Sistema Internacional.
Não estamos, pois, perante um argumento jurídico. Estamos perante um ressentimento antigo, reciclado com o verniz da academia e a condescendência dos que apenas querem parecer virtuosos no horário nobre.
Israel é imperfeito, como qualquer obra humana. Mas vive num bairro difícil, cercado por vizinhos que não discutem fronteiras, mas a sua própria existência. Num mundo sério, esse contexto bastaria para moderar o discurso e evitar julgamentos tremendos.
Num mundo sério, o DI não seria usado como arma política por académicos sérios. Num mundo sério, reconhecer um Estado exigiria mais do que empatia ideológica e vontade de castigar judeus.
Infelizmente há quem viva num mundo de ficções maniqueístas. Onde o mal veste farda israelita e o bem carrega bandeiras palestinianas. Onde a justiça se confunde com ódio e vingança. Onde o Direito serve não para resolver conflitos, mas para aplacar o ressentimento de quem perdeu a realidade. Onde as análises jurídicas são exercícios de alinhamento com a pornografia moral dominante. E subtis, mas claras, tentativas de deslegitimar Israel sem o dizer abertamente.