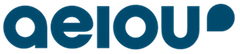O impasse


Os resultados eleitorais do passado domingo tomaram o país de surpresa. O partido vencedor foi o esperado, o próximo governo será encabeçado pelo mesmo primeiro-ministro, nas mesmas condições minoritárias e, no seu conjunto, os vários partidos mais pequenos permanecem semelhantes. E, no entanto, paira no ar a sensação de que tudo mudou, ou pelo menos que o sistema político-partidário com o qual convivemos nos últimos 50 anos abanou de forma definitiva.
A disputa pelo segundo lugar não é um mero simbolismo irrelevante. Um mundo com dois partidos dominantes num sistema bipartidário imperfeito é totalmente diferente de um mundo com uma dinâmica de competição partidária em que três partidos de tamanho médio e semelhante (cada um entre um quinto e um terço do eleitorado) se confrontam e têm de resolver a governação do país entre si.
Neste momento, não é claro para onde vai o sistema partidário. Será que o tamanho relativo dos três partidos permanecerá assim durante alguns ciclos eleitorais? Será que no próximo ciclo eleitoral, PS e o PSD trocam de lugar relativo? Ou será que o Chega poderá trocar de lugar com o PSD e tornar-se o maior partido da direita e do país? É possível ainda que o Chega não deixe de ser, nos próximos tempos, um partido de protesto de tamanho variável. Ou passou a ser um partido como o PS e o PSD no que toca a ambições e possibilidades governativas? Um ciclo eleitoral não é suficiente para sabermos como se desenrolará um padrão de competição que, por natureza, precisa de várias iterações para se estabelecer.
Desde logo, um sistema tripartido gera uma incerteza muito maior que um sistema bipolar e bipartidário (mesmo que imperfeito). Para as elites dos três grandes partidos, é bastante mais incerto e mais difícil lidar não apenas com um único opositor, com o qual espera alternar, mas sim com dois opositores em simultâneo, sem saber que eixo de competição privilegiar. E, mesmo do lado dos eleitores, um sistema tripartido gera também mais incerteza. A famosa “lei” de Duverger, que nos explica a tendência de alguns sistemas para a bipolarização através do voto estratégico, assenta num mecanismo psicológico segundo o qual os eleitores sabem com certeza e a priori que há dois partidos maiores que todos os outros e que estão a disputar o primeiro lugar. Se, ao invés, os eleitores se depararem com uma maior incerteza sobre o tamanho relativo dos partidos e observarem três partidos de tamanho semelhante, torna-se muito mais difícil para o eleitor estratégico saber onde depositar o seu voto.
Sendo o nosso sistema eleitoral indubitavelmente e formalmente um sistema de representação proporcional, a lógica de competição partidária em Portugal nos últimos 40 anos nunca foi exactamente igual à lógica de países onde a proporcionalidade eleitoral é mais pura, como a Holanda, a Dinamarca, ou a Alemanha. Na verdade, talvez seja mais acertado afirmar que o nosso sistema combinou sempre elementos proporcionais com elementos maioritários.
Dos nossos 22 distritos eleitorais, onze elegem apenas 2 a 5 deputados. Nestes círculos, a lógica de competição não é proporcional e foi dominada, nas últimas décadas, por dois partidos. A outra metade divide-se em círculos de dimensão média e de dimensão muito elevada, onde há proporcionalidade e que, regra geral, possibilitam a entrada de partidos mais pequenos no parlamento. Em conjunto, este sistema assimétrico permitiu combinar características positivas dos sistemas proporcionais e dos sistemas maioritários: o melhor dos dois mundos, por assim dizer. Como nos sistemas proporcionais, tivemos sempre uma representatividade da diversidade ideológica da sociedade superior àquela que se verifica em sistemas com apenas dois partidos. Como nos sistemas maioritários, não houve uma fragmentação excessiva do sistema partidário, que foi permitindo períodos de governabilidade estável associados a um dos dois grandes partidos, de forma alternada. Esta combinação foi frequentemente vista como um equilíbrio bom e desejável. No mundo real, não é possível a nenhuma instituição política alcançar o melhor de todos os mundos, mas o equilíbrio foi sempre visto como positivo e parcialmente responsável por uma democratização bem-sucedida.
Os resultados eleitorais de Domingo revelam, no entanto, a outra face da moeda. Actualmente, e pela confluência de várias tendências históricas, o nosso sistema político combina hoje também o pior dos dois mundos: as consequências negativas de ambos os sistemas. Como nos sistemas proporcionais, assistimos hoje às consequências da maior fragmentação do eleitorado, entre as quais a instabilidade. Mais, esta fragmentação tem sido — não apenas em Portugal, mas por toda a Europa continental — uma fragmentação acompanhada pelo sucesso eleitoral de um “novo” tipo de partido: os partidos de direita radical, que estes sistemas não estavam habituados a incorporar.
Mas, como acontece em vários sistemas maioritários, também não temos a flexibilidade de uma cultura histórica de coligações governativas. Em sistemas altamente proporcionais e fragmentados é essa cultura de coligações que confere flexibilidade ao sistema. Este não é um mero lamento sobre a nossa falta de cultura política civilizada. É antes o produto perfeitamente expectável e racional da face maioritária do sistema que descrevi em cima. O padrão de competição estabelecido ao longo das últimas quatro décadas é um padrão bipolar: os eleitores esperam alternância entre os blocos do centro-esquerda e do centro-direita, num modelo de responsible party government. Isto é, os eleitores portugueses esperam que, em cada ciclo eleitoral, governe um dos dois grandes partidos, de campos ideológicos moderados mas opostos. Durante o seu mandato, os governos produzem medidas e políticas públicas e, no final, os eleitores atribuem os resultados ao partido grande que esteve no governo. Esta lógica é uma lógica maioritária de rotação de poder e de responsabilização de um partido único. Basta pensar que, num governo de coligação com 5 ou 6 partidos, de várias ideologias, torna-se muito mais difícil votar com base apenas nesta avaliação simples retrospetiva de um partido único e grande de governo.
Até hoje, os eleitores portugueses nunca esperaram governos compostos por coligações de muitos partidos em vários pontos do espectro ideológico nem esperam uma grand coalition formal entre os dois maiores partidos. Comparemos esta situação com a de outros sistemas proporcionais. Na Áustria, mais de metade dos governos desde a Segunda Guerra Mundial foram governos de grand coalition entre os dois principais partidos, o partido social-democrata e o partido popular, nomeadamente entre 1945-1966, 1987-2000 e 2007-2017. Na Holanda e nos países Nórdicos são frequentes governos de coligação com cinco partidos ou mais. Na Alemanha os eleitores também não estranham as grand coalition: já houve quatro coligações entre o SPD e a CDU/CSU desde 1945, para um total de mais de 15 anos vividos sob este modelo de coligação, e este ano iniciou-se mais uma, que era esperada por todos. Nos períodos em que não houve grand coalition, o partido liberal (FDP) governava ora com o centro-esquerda, ora com o centro-direita. Esta flexibilidade foi fundamental: desde o pós-guerra, o FDP entrou em nove coligações de governo com a CDU e entrou em cinco coligações de governo com o SPD. Foi um autêntico partido pivot entre os dois campos. Quando vai votar, nenhum eleitor estranha que haja uma coligação entre sociais-democratas, verdes e liberais, como também ninguém estranha uma coligação entre democratas-cristãos, verdes e liberais, e essas expectativas estão incorporadas no sentido que se dá ao voto.
Em Portugal, a situação não podia ser mais contrastante. Houve apenas um Bloco Central formal, há mais de 40 anos, que durou apenas 2 anos. Um mandato incompleto e que não ficou bem recordado na memória dos eleitores, até pelo contexto económico da época. Quase nenhum eleitor espera que haja um Bloco Central quando vai votar e, portanto, vota de acordo com outra lógica. Da mesma forma, depois da coligação em 1978 entre o PS e o CDS, que durou apenas 7 meses, ninguém espera que um dos pequenos partidos apoie um governo chefiado pelo partido de um campo ideológico oposto. Não há partidos pivot em Portugal, o que contribui para a lógica bipolar e maioritária do sistema. Ninguém espera que a IL entre numa coligação de governo com o PS, como também ninguém espera que o Livre entre numa coligação de governo com o PSD. A começar pelos próprios eleitores que votam na IL e no Livre, que sentiriam que o seu sentido de voto seria “traído” caso algo do género viesse a acontecer.
As expectativas dos eleitores são fundamentais e incorporam a lógica de competição habitual e expectável do sistema. Quando vão votar, os eleitores incorporam essas expectativas no seu sentido de voto e no modo como olham para o voto. Por sua vez, os políticos não estão habituados a outros modelos de competição partidária, como os que descrevi em cima, pelo que não têm modelos mentais, sociais e até rituais para realizar esse tipo de interação e negociação política de forma natural. Talvez mais importante, como sabem que estariam a romper com a lógica habitual de competição partidária, essas elites políticas temem que, qualquer que seja a sua decisão, esta seja penalizada por eleitores que não esperavam tal acções quando foram votar. Isto aplica-se a coligações como grand coalitions (bloco central), a coligações de muitos partidos, a coligações de partidos ideologicamente distantes, mas também a uma coligação entre PSD e o novo partido Chega, que não foi assumida nem esperada por muitos dos eleitores que votaram na AD e no Chega no Domingo passado e que, portanto, votaram com essas expectativas em mente. De momento, parece que todas as inovações executivas e negociais seriam penalizadas nas urnas por alguém. Arrastamo-nos, assim, de governo minoritário instável em governo minoritário instável.
Não temos mecanismos para lidar simultaneamente com a fragmentação, a ascensão da direita radical e a lógica governativa que nos habituámos até aqui. É daqui que resulta o impasse que sentimos hoje. Não é claro como iremos sair deste impasse nem quem o irá o resolver. Mas, talvez intuitivamente, tenho a impressão que não será possível permanecer no impasse durante muito tempo.