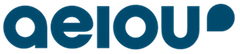O regular funcionamento das instituições


A democracia é a forma. Todos os deputados deveriam receber no dia da tomada de posse uma t-shirt com esta frase estampada e, para além disso, deveriam ser obrigados a utilizá-la durante uma sessão de plenário uma vez por ano para garantir que não a esquecem. Esquecer que a democracia é, antes de mais, a forma, as regras, a divisão de poderes, o respeito pelos equilíbrios horizontais e verticais entre o Legislativo, o Executivo e o Judicial é não acreditar no liberalismo e na capacidade de racionalizar decisões comuns.
O acórdão do Tribunal Constitucional sobre a fiscalização preventiva da lei dos estrangeiros, pedida pelo Presidente da República, num derradeiro estertor de quem teve um mandato esquecível e que está hoje alienado não só da maioria dos portugueses, mas também das duas grandes famílias políticas, é, evidentemente, como escreveu Gonçalo Almeida Ribeiro na sua declaração de voto, ideológico. Os conselheiros do Palácio Ratton são, antes de mais, actores políticos, que funcionam como agentes das coligações políticas que os nomearam. Mas nota, caro Gonçalo, as preferências ideológicas marcam igualmente ambos os lados. Quem votou pela inconstitucionalidade fê-lo por motivos ideológicos. Quem votou pela constitucionalidade fê-lo pelo mesmíssimo racional ideológico, mas de sentido oposto. E ainda bem que assim é. Isto é o regular funcionamento das instituições.
Na primeira encarnação da minha vida académica, quando era ainda um aprendiz de feiticeiro desta arte que ganhou o epíteto de ciência política, escrevi uma tese sobre judicial politics. Neste Agosto quente, fui tirar a tese de mestrado do fundo da gaveta para reler algumas coisas que seriam importantes para algumas cabeças políticas manterem a serenidade nestes momentos.
A primeira lição que recordei foi, obviamente, que o TC funciona como um mecanismo ‘contramaioritário’, agindo contra um eventual excesso de poder das maiorias parlamentares. Obviamente que, perante a possibilidade de o TC bloquear os desejos de uma maioria popularmente eleita haverá quem afirme que não deveria haver quaisquer pontos de veto da maioria existente no ramo legislativo e que apenas e só o povo, nas urnas, nas eleições seguintes, deveria julgar o que se passou. Isto configuraria, naturalmente, uma ditadura da maioria e uma política virtualmente sem freios. O TC tem como função principal funcionar como agente de veto e conter os ensejos da maioria. Para além disso, o TC tem como função a ‘pacificação da política’, na medida em que, possuindo uma imagem pública de neutralidade – ou, pelo menos, de menor politização do que os partidos políticos –, consegue servir de mediador entre actores políticos. Por último, o TC tem uma capacidade de ‘legitimar as políticas públicas’, colocando os desejos de actores políticos com preferências contraditórias em linha com a lei superior: a Constituição.
A segunda lição vem num texto clássico de Kelsen, escrito em 1928, no qual o autor alemão afirma que o conceito de separação de poderes tem como objectivo fundamental a possibilidade de controlo garantaria “a instituição da justiça constitucional não está de todo em contradição com o princípio da separação dos poderes e corresponde, pelo contrário, à sua afirmação” (Kelsen, 2001 [1928]: 19).
Estas duas lições remetem para uma questão maior: qual a legitimidade institucional e política que o TC tem para servir como mecanismo contramaioritário? A explicação é muito simples: a politização do processo de nomeações dos conselheiros do TC. Este mecanismo é a pedra angular sob a qual assenta a legitimidade do TC. As coligações que dominam o poder legislativo têm o direito de nomear os juízes, garantindo, assim, um alinhamento da posição ideológica média do TC com a posição ideológica média do poder legislativo, garantindo, segundo Tsebelis, uma absorção ideológica do tribunal pelo círculo interno de decisão. Os juízes tornam-se, assim, parte integrante da cadeia de delegação política. Vale a pena citar um trabalho de Morton de 1999, apresentado no Instituto Canadiano de Administração da Justiça, no qual o autor descreve este processo da seguinte forma: “Os deputados participam no recrutamento, fiscalização e selecção dos candidatos […] sendo a lealdade partidária dos juízes parte indispensável deste processo”.
Na apreciação da constitucionalidade da lei dos estrangeiros, o problema central do TC é simples de perceber: a posição ideológica do juiz mediano já não corresponde à posição ideológica do legislador mediano. A distribuição interna de poder no TC reflecte ainda a maioria legislativa que nomeou os conselheiros actuais. Nessa altura, o legislador mediano estaria algures entre PS e PSD. A democracia fica reforçada quando existe um desfasamento temporal entre a composição do TC e a composição do ramo legislativo. Este desfasamento, apesar de criar algum atrito, garante que não pomos os ovos todos no mesmo cesto. É bom que, num momento em que o deputado mediano está algures dentro do grupo do PSD, devido ao forte movimento para a direita nas últimas eleições, o TC reflicta uma composição mais moderada. Imagino já muitos leitores a acharem isto uma injustiça. No entanto, lembrem-se de uma coisa: num cenário em que a esquerda ganhe eleições dentro de quatro anos, a composição do TC reflectirá ainda a composição actual da Assembleia da República, na qual, legitimamente, o Chega tem aspirações para influenciar decisivamente a nomeação dos novos conselheiros do TC. Nessa altura, o tabuleiro reverter-se-á. Teremos um TC mais à direita do que a AR. E isso será bom. Será o regular funcionamento das instituições.