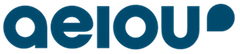As reparações foram ao teatro


As pessoas woke estão sempre a presumir que a questão das reparações é sensível, difícil de abordar, e que só por isso o debate dessa questão não arranca na sociedade portuguesa, mas estão enganadas. Em primeiro lugar porque o debate já arrancou há muitos anos (começou em abril de 2017). Em segundo lugar porque é muito fácil debater a questão das reparações desde que se assuma, como há muito faço, que não há qualquer reparação a fazer e que se explique porquê. Ao contrário do que gente woke pensa, a questão não está adormecida ou ainda por tratar. Está, isso sim, digerida e resolvida pois tudo indica que os portugueses têm uma opinião formada sobre o assunto, que é a de discordar de pedidos de desculpa e de reparações. No nosso país pensa-se, ao invés, que os portugueses devem ser indemnizados pelo que deixaram em África.
Ou seja, a menos que haja uma inesperada mudança no rumo dos acontecimentos e das correntes de opinião o assunto das reparações é um nado-morto em Portugal e faço votos de que assim permaneça. É verdade que no verão de 2023 dez pessoas woke, entre as quais o conhecido activista Mamadou Ba, produziram uma pomposamente designada Declaração do Porto, ou seja, um caderno reivindicativo no qual, entre outras coisas, se exigia ao Estado português que pagasse indemnizações às pessoas lesadas pelo colonialismo. Esses woke puseram a dita Declaração a circular na Internet com vista à recolha de assinaturas. Esperavam, obviamente, uma grande adesão à iniciativa, mas o resultado foi tão escasso que ela não chegou a descolar. Na primavera seguinte houve quem pensasse que as infelicíssimas declarações de Marcelo Rebelo de Sousa iriam reanimar o assunto. Organizaram-se dois ou três debates televisivos, mas a questão nunca ganhou tracção e voltou a desaparecer da ordem do dia e das preocupações dos portugueses. Actualmente, e salvo melhor opinião, as reparações são um tema de nicho, estritamente africano ou de extrema-esquerda, que tem alguma exposição na RTP África e em raras iniciativas de académicos conotados com o Bloco, e por aí se fica.
O desejo de insuflar vida num tema que está praticamente morto, ou desaparecido num gueto, foi a principal razão que levou Marco Mendonça, um actor, dramaturgo e encenador nascido em Moçambique em 1995 — é um jovem, portanto —, a pôr de pé a peça teatral Reparations, Baby!, algo que foi profusamente noticiado e que tenta, por via de uma nova abordagem — o riso e o desafio destinados a provocar reflexão —, culpabilizar e responsabilizar os portugueses por determinados aspectos do seu passado colonial. Como o próprio autor nos diz, “pode ser produtivo saber que a culpa existe, e que ela pertence a alguém. Acredito que, mais do que nunca, as pessoas precisam de viver essa culpa, de a sentir, ou de empatizar com quem reclama reparações históricas (…) A culpa existe, e está, de certa forma, no ADN da construção do país e do império”, ainda que a população branca de Portugal se recuse a aceitá-lo. Os portugueses não seriam “heróis do mar” e sim “heróis do mas”, sempre a desculpar as atrocidades do império com os usos e costumes dos “homens desse tempo”, sempre afogados em séculos de mentiras.
Tanto quanto posso ver, e não obstante os seus eventuais méritos e a chancela do Teatro Nacional D. Maria II, a peça não suscitou a atenção e o debate que o seu autor desejava, o que talvez seja bom pois Reparations, Baby! coxeia um bocado do ponto de vista histórico. É claro que a arte não tem de ser historicamente irrepreensível e que uma peça de teatro pode valer por muitos outros aspectos que não o rigor histórico. Mas Marco Mendonça quer meter a História ao barulho, assume frontalmente que pretende, entre outras coisas, ensinar e informar, e preocupa-se em “lançar factos, dados históricos, estatísticas” para a sua audiência. O problema é que por vezes o faz sem ter os conhecimentos requeridos e sem saber exactamente do que está a falar. Atirar aos espectadores com o número de escravos transportados em navios registados com bandeira portuguesa, por exemplo, é enganador, a menos que se explique — o que Marco Mendonça não faz — o que era o chamado embandeiramento e qual a sua dimensão. Para quem não sabe, o embandeiramento era, e continua a ser, um estratagema seguido pelos armadores de navios como forma de contornarem proibições ou leis mais rigorosas e foi adoptado também no tráfico ilícito de escravos. O recurso fraudulento à bandeira portuguesa foi praticado em larguíssima escala pelos negreiros que actuavam no Brasil, quando a partir de 1830, por lei e pelos tratados, esse tráfico se tornou proibido nesse país. Todavia, o Brasil continuou a fazê-lo recorrendo à bandeira portuguesa, tendo, a coberto dessa habilidade, importado quase meio milhão de escravos negros. Acrescente-se a propósito, e pela milésima vez, que Portugal não “foi responsável pelo tráfico de quase 6 milhões de homens, mulheres e crianças”. Isso é falso. Esses são os números agregados de dois países: Portugal (4,5 milhões de pessoas) e Brasil independente (1,3 milhões).
As objecções que um historiador pode pôr à peça não se ficam pelos erros numéricos e pelas meias-verdades que ela transmite. Há um problema de fundo com a divisa ou filosofia de que a referida peça parte e em que assenta. De facto, Reparations, Baby! é proposta aos espectadores por meio da seguinte declaração da cantora sul-africana Miriam Makeba: “O conquistador escreve a História. Eles vieram, dominaram e escreveram. Não se espera que as pessoas que vieram para nos invadir escrevam a verdade sobre nós”. Esta frase e outras do mesmo género que frequentemente encontrarmos nas redes sociais de pessoas africanas e afrodescendentes são geralmente apresentadas sob a forma de axioma, como algo tão perfeitamente claro e evidente que dispensaria demonstração. Por vezes são difundidas com uma conotação ou carga reactiva. Há cinco anos, num artigo com vários equívocos, o escritor angolano João Melo, por exemplo, afirmou que “a história é escrita pelos vencedores. Mas também pode ser reescrita, quando os derrotados se rebelam”.
Estamos perante afirmações ou máximas erradas e, no caso de João Melo, duplamente erradas. Na verdade, a História não é escrita pelos conquistadores ou vencedores — que seriam, por suposta inerência, mentirosos —, mas sim pelos historiadores. Há bons e maus historiadores, os que são isentos e os que são politicamente interessados em virar as coisas num certo sentido. Há bons historiadores negros — Orlando Patterson, por exemplo — que, no essencial e no que se reporta aos factos, dizem o mesmo que os bons historiadores brancos, o que não é de estranhar porque a História é escrita com base em documentos que podem ser verificados e estudados por qualquer pessoa, seja ela descendente de vencedores ou de vencidos. Dito isto, subsiste uma importante pergunta: poderíamos construir e contar uma outra História como é o manifesto desejo de muitos africanos, de Miriam Makeba ao autor da peça Reparations, Baby? Poderíamos, sim, se houvesse novas questões a colocar aos documentos existentes — e se eles fossem capazes de nos dar novas respostas — e sobretudo se houvesse novos documentos autênticos, de preferência produzidos pelos povos conquistados ou dominados, que permitissem contestar ou contradizer as versões que agora temos e aceitamos como boas.
Mas haverá esses documentos? Não parece, ou pelo menos ainda não foram encontrados, e essa é uma limitação não apenas de boa parte da história de África, mas das histórias de todos os povos sem escrita, cujas existência, características, formas de actuação e condutas políticas e sociais chegaram até nós por via do que os povos letrados que com eles contactaram nos transmitiram. O que sabemos dos povos do sul de Angola chegou até nós por intermédio do que os portugueses deles escreveram; o que conhecemos dos Hunos foi-nos transmitido pelos Romanos; etc.
Trata-se de uma inevitabilidade sempre que estão em contacto ou em confronto povos com e sem escrita, que faz com que a informação obtida sobre os que não sabem escrever e não nos deixaram as suas próprias narrativas seja parcial. Mas isso não significa que seja falsa, ao contrário do que Miriam Makeba, João Melo e muitíssimos africanos supõem. Aliás, afora as questões numéricas ou mensuráveis, os historiadores lidam sempre ou quase sempre com informações parciais, pessoais, unilaterais, que têm de filtrar e descodificar. É esse, em boa medida, o seu trabalho. João Melo diz que a História pode ser reescrita “quando os derrotados se rebelam”, mas está equivocado e a equivocar-nos. Nos casos em que isso é feito, quando os povos em rebelião chegam ao poder e invertem ou alteram a narrativa fazem-no por razões de conveniência política e ideológica e não por motivos historiográficos ou científicos. Nesses casos a História deixa de o ser, isto é, deixa de ser uma forma isenta de conhecer o passado e converte-se num logro e em propaganda, numa História militante e revanchista. A História só se reescreve quando se lança mão de novos conceitos, se utilizam novos documentos ou se enfrentam novos problemas.
É por isso falso que, à falta desses ingredientes, os africanos apologistas de reparações possam escrever uma história substancialmente diferente da que até agora foi escrita. Quando, para contornarem o obstáculo da lacuna documental, recorrem à fantasia e nos dão opiniões, provocação, humor ou representação teatral salpicada de dados históricos avulso, como acontece na peça Reparations, Baby!, estão a propor-nos um mundo ficcional, a espicaçar as nossas emoções, a fazer activismo e intervenção política. Tudo isso é perfeitamente legítimo, claro, mas não confundam as coisas: não é História e geralmente nem sequer é verdade.