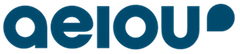IL quer que lei de estrangeiros entre em vigor “o mais depressa possível”

A presidente da Iniciativa Liberal (IL) disse este domingo que o Governo podia ter evitado o impasse na lei de estrangeiros porque preferiu “não ouvir ninguém” e considerou “importante” que a lei entre em vigor “o mais depressa possível”.
“Há alguma urgência nesta questão, sendo que obviamente não podemos também deixar de criticar que, por conta de uma suposta urgência, o Governo também acabou por ir longe demais, não quis ouvir ninguém, Não quis sequer esperar pelos pareceres que estão legalmente previstos. Essa actuação acabou por ser contraproducente”, disse Mariana Leitão.
Em Valongo, no distrito do Porto, onde participou na apresentação dos candidatos do concelho às eleições autárquicas, Mariana Leitão disse que a “urgência” do Governo “culminou no acórdão do Tribunal Constitucional (TC) e no veto do Presidente da República, algo que poderia ter sido evitado se o Governo tivesse ouvido os vários alertas”.
“Alertas que inclusivamente, nós na IL fizemos para que se corrigissem algumas questões que, provavelmente, agora teriam evitado que chegássemos a esta situação”, disse.
A lei agora chumbada pelos juízes do TC foi aprovada em 16 de Julho na Assembleia da República, com os votos favoráveis de PSD, Chega e CDS-PP, a abstenção da IL e votos contra de PS, Livre, PCP, BE, PAN e JPP.
O TC chumbou cinco normas do decreto do Parlamento que aprova o regime jurídico de entrada, permanência, saída e afastamento de estrangeiros do território nacional. O diploma será agora devolvido à Assembleia da República para que sejam alteradas as normas que violam a lei fundamental.
Numa carta enviada a Carlos Abreu Amorim, ministro dos Assuntos Parlamentares, a que a Lusa teve acesso e divulgada no sábado, a IL mostrou-se disponível a “negociar uma solução urgente e rigorosa” para ultrapassar qualquer impasse na lei de estrangeiros
Mariana Leitão propôs-se a dialogar com o executivo para conseguir “uma solução urgente e rigorosa”, lia-se na carta. Questionada a propósito desta disponibilidade, Mariana Leitão disse que “a questão central é ter uma lei equilibrada, proporcional, justa” e adiantou que para a IL há dois tópicos que terão de ser discutidos.
“Por um lado a questão das salvaguardas processuais, a questão dos processos dos recursos, que me parece que há espaço para aprimorarmos bastante a lei do Governo, e depois a questão do prazo, que nos parece que com o tempo de decisão, há um certo exagero na prorrogação de 18 meses para se tomar uma decisão”, descreveu.
Reiterando que a lei deve avançar com “relativa rapidez”, a presidente da IL vincou que esta deve salvaguardar várias questões, ter regras e garantir previsibilidade nos direitos e deveres.
“É importante garantir que este processo termina de forma a que a lei entre em vigor o mais depressa possível. É importante termos um quadro legal que regule as questões da imigração. Nós sempre defendemos que a imigração tem de ser feita com regras, tem também de ter um cenário de previsibilidade para quem quer imigrar saber exactamente com o que é que pode contar e tem de salvaguardar, também, a questão humanista”, referiu.
Para Mariana Leitão, é preciso, também, evitar que quem chega a Portugal fique “completamente abandonado e entregue à sua sorte, a viver em situações de completa desumanidade à mercê de exploração laboral”.
“Temos de ter um quadro legal proporcional, justo e que preveja as várias situações para que se consiga agir, nomeadamente quando há casos de imigração ilegal (…) e salvaguardar que, por exemplo, o crime de tráfico de seres humanos, que aumentou exponencialmente nos últimos anos, deixe de ter o impacto tão grande como tem tido e sirva para acabarmos com redes de auxílio à imigração ilegal e tudo mais”, concluiu.