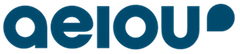Quando as raízes são esquecidas…


1. Em fevereiro de 1945, nas margens do Mar Negro, mais precisamente em Yalta, reuniam-se Franklin D. Roosevelt, Josef Stalin e Winston Churchill. A fotografia do acordo final é um ícone de uma mundividência em que se une o leste euro-asiático, Europa e América.
Em agosto de 2025, ocorreu uma reunião altamente simbólica entre os presidentes dos Estados Unidos e da Rússia na Base Conjunta Elmendorf‑Richardson, no Alasca, para tratar do futuro da Ucrânia e, por inerência, do futuro da Europa. Mas, onde está a Europa? A Europa assistiu de fora, o que evidencia com clareza a marginalização do continente nas decisões cruciais sobre o futuro.
Este “momento Alasca” é mais do que geopolítica: é um sintoma da profunda irrelevância em que a Europa redundou. Com efeito, a Europa nasceu de uma matriz espiritual inconfundível. Mas quando uma árvore corta as suas raízes, não pode esperar permanecer de pé. Hoje, assistimos ao declínio do peso europeu no mundo, não por falta de recursos, nem por debilidade económica, nem tampouco por fraqueza tecnológica, mas por uma crise mais profunda: o esquecimento da sua própria identidade.
2. A sombra deste declínio político reflete a perda das raízes judaico-cristãs que estruturaram a alma da Europa. Durante séculos, a ética cristã – com seus princípios de dignidade humana, justiça, solidariedade e verdade transcendente – foi o espaço legítimo de expressão da civilização europeia. Hoje, em muitos círculos, ela é vista como opcional, irrelevante, desprovida de toda a força e influência.
Ao longo de séculos, buscou-se uma secularização de tudo o que era religioso e espiritual na Europa, acabando-se num laicismo (bastante diferente da sã laicidade) ateu e agnóstico, que encerra o dado religioso apenas na esfera privada. Isto conduziu à recusa em incluir a referência às raízes cristãs da Europa na Constituição Europeia (anos de 2003 e 2004), situação que levou São João Paulo II a recordar, com amargura, que não se entende a Europa sem a referência à fé cristã. São sintomáticas estas palavras: “O ‘velho’ continente tem necessidade de Jesus Cristo para não perder a sua alma e para não perder tudo o que o fez grande no passado”. (1)
O pontificado de Bento XVI ficou marcado por sucessivos convites para a Europa fazer exame de consciência a respeito da sua identidade mais profunda, sublinhando como só se entende o projeto europeu com base no Direito romano, na Filosofia grega e na Ética judaico-cristã. A colocação de Deus como fundamento transcendente da realidade é essencial para que subsistam aqueles valores fundamentais que pautam a vida europeia. Com efeito, como afirmava Bento XVI falando no Bundestag, na Alemanha: “A cultura da Europa nasceu do encontro entre Jerusalém, Atenas e Roma, do encontro entre a fé no Deus de Israel, a razão filosófica dos gregos e o pensamento jurídico de Roma. Este tríplice encontro forma a identidade íntima da Europa”.(2) Sem a visão de transcendência, as cadeias de significado rompem-se e a cultura degrada-se em utilitarismo.
Também o Papa Francisco, na visita ao Parlamento Europeu em 2014, assinalou de forma marcante que “uma Europa que já não seja capaz de se abrir à dimensão transcendente da vida é uma Europa que lentamente corre o risco de perder a sua própria alma e também aquele ‘espírito humanista’ que naturalmente ama e defende”.(3) Com efeito, o vazio espiritual nunca é neutro: destrói a herança cultural e torna a político impotente.
A necessidade incontornável do transcendente para fundar aquilo que é a vida social foi também assinalada pelo Papa Leão XIV quando, dirigindo-se aos governantes que participaram no Jubileu, afirmou: “Para ter um ponto de referência unitário na ação política, em vez de excluir a priori nos processos decisórios a consideração do transcendente, será útil procurar nele o que une todos”.(4)
De facto, a realidade é muito clara: sem essa bússola ética que orientou a Europa durante séculos, as instituições perdem coerência, a solidariedade estreita-se, o testemunho no mundo esvai-se. Sem princípios que transcendam o imediato, as decisões tornam-se reféns do cálculo e do interesse momentâneo. É imprescindível reencontrar as raízes da Europa se queremos recuperar a unidade na diversidade, que sempre foi a identidade europeia.
3. Este momento é sério, mas não sem esperança. A crise pode ser um convite à conversão – um retorno consciente às fontes que forjaram nossa identidade.
Em primeiro lugar, é necessário ter memória. Recuperar a memória das raízes judaico-cristãs, não como nostalgia, mas como renovação inteligente de uma cultura que promove o bem comum, a dignidade de cada pessoa e a verdade que torna a convivência humana possível. Neste sentido, é necessário recordar a importância do conceito de família edificado sobre o matrimónio monogâmico, única forma de garantir a igual dignidade entre homem e mulher.
O segundo desafio é de intervenção na vida pública. É necessário integrar essas raízes na vida pública – na formação dos responsáveis, no espaço da persuasão democrática, na educação, na solidariedade internacional – não como vestígios, mas como horizonte que sustenta o futuro. Neste desafio abrem-se duas portas essenciais: uma recuperação da ética como orientação fundamental para a vida e presença pública; devolver a dignidade à ação pública e política, para que seja sempre e por todos vista e vivida como missão de serviço ao bem comum.
Terceiro desafio premente: presença mundial. Temos de construir uma presença europeia capaz de dialogar com o mundo – diplomática, cultural, ética – que reforce a relevância internacional da Europa como ator moral e civilizacional. E, ao mesmo tempo, oferecer ao mundo algo único: a audácia de viver segundo ideais que talvez outros esqueceram, mas que são também fermento de esperança.
A Europa esqueceu a fé que construiu as suas catedrais e universidades, inspirou a sua arte e moldou a sua política. Em troca, abraçou um pragmatismo sem horizonte, uma neutralidade que é, afinal, vazio. Sem Deus, não há visão. Sem visão, não há liderança. E sem liderança, a Europa torna-se irrelevante.
Este é o momento de sermos europeus com raízes fortes, que entendem que a relevância não se reconquista apenas com poder ou tecnologia, mas com verdade, beleza e compaixão. Que sejamos, novamente, farol de civilização, guiando o mundo de volta à dignidade, ao respeito e ao horizonte transcendente.
Ainda que com enquadramento bélico, vale a pena recordar o que G. K. Chesterton escreveu: “O verdadeiro soldado não combate porque tem diante de si algo que odeia. Ele combate porque tem atrás de si algo que ele ama”. Será que a Europa saberá o que ama para ter algo que defender? (5)
(1) Discurso, 23 de fevereiro de 2002, n. 4.
(2) Bento XVI, Discurso, 22 de setembro de 2011.
(3) Francisco, Discurso, 25 de novembro de 2014.
(4) Leão XIV, Discurso, 21 de junho de 2025.
(5) G. K. Chesterton, Our notebook, in The Illustrated London News, 31 de dezembro de 1910, p.
1024.