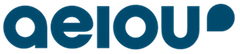Uma memória do elevador da Glória


Em 1994 e 95 estava no 12º ano. Para me preparar para a Faculdade frequentava no Externato Acrópole umas aulas extra de Filosofia e História. Nelas estudávamos para as Provas Específicas, que tinham substituído a conturbada Prova Geral de Acesso. Isto significava que tinha uma vida estudantil dupla, entre o Liceu de Queluz, a minha escola normal, e o Chiado, onde era o Externato Acrópole (onde a minha Mãe era professora de inglês e alemão). Como o Liceu tinha aulas nocturnas, num horário fantástico entre as 19h e as 22h, ficava Lisboa com a parte solar do meu dia. Esse foi ano em que comecei a sentir Lisboa como minha.
Como a grande maioria dos miúdos dos subúrbios da capital, tinha nascido em Lisboa. Na altura ninguém crescido na Linha de Sintra tinha nascido na Linha de Sintra, excepto em caso de acidente: nem sequer havia o Hospital Amadora-Sintra. Pertencia por isso ao grupo dilatado que tinha “São Sebastião da Pedreira” no bilhete de identidade. Curiosamente, não porque nasci na Maternidade Alfredo da Costa mas perto, na Clínica Cabral Sacadura. O facto é que, apesar de nascido em Lisboa, um miúdo crescido nos seus subúrbios não tem uma relação directa com ela. A capital era o lugar de passeios, não o nosso lugar mesmo.
Isto começou a mudar para mim a partir desse ano de 1994. Mais do que uma vez por semana ia para Lisboa e comecei a senti-la como parte real da minha vida, mais do que um detalhe no meu documento de identificação. Nunca me tornei um lisboeta mas a verdade é que Lisboa é a cidade do meu coração. Amo-a como um apaixonado atrapalhado, incapaz do passo derradeiro da proposta de casamento. Lisboa é minha mas nunca vivi com ela. Quase todos os dias vou à sua presença mas ela nunca reconheceria saber o meu nome. Ela ignora-me oficialmente mas todos os dias me aproximo dela, nunca indiferente aos seus encantos altivos. É o meu grande amor não-correspondido.
O início do meu amor zonzo por Lisboa começou sobretudo no Rossio, no Chiado e nos Restauradores. Em 1994 já tinha a mania que era punk. Por isso, alternava as voltas de estudo com as visitas à Loja 67, onde comprei as minhas primeiras Doc Martens que me custaram meses de poupança da astronómica quantia à época de 15 contos e quinhentos (mais ou menos 77 euros e 50 cêntimos—ainda hoje esse valor me parece uma fortuna em calçado). Era esse eixo da estação de comboio para o Externato Acrópole e para visitar a 67, perto de lojas de discos como a Bimotor, que servia de rota para a minha vida crescente na capital.
Para ir do Chiado para os Restauradores tinha de descer a Calçada da Glória. Quer nessa época, quer nos anos seguintes, raras foram as vezes que apanhei o Elevador. A poupança e a juventude pronta faziam-me descer a pé aquela rua íngreme. Por causa disso, o Elevador foi mais meu companheiro de descida e subida do que transporte delas. Habituei-me, por exemplo, a ouvi-lo para, ficando perto do seu trilho, afastar-me o suficiente para não me atropelar. Na década de 90 era autenticamente um Elevador, não uma atracção turística. Não pensávamos nele como monumento. Ele era apenas parte da Lisboa de todos os dias. E ao ser apenas isso, era muito.
De certo modo, essa Lisboa de todos os dias já não existe. Provavelmente não aconteceu só com Lisboa mas com qualquer cidade que, neste século em que viajar é obrigação de viver, se torna mais uma banal peregrinação de experiências burguesas. Não quero escrever isto como quem se lamenta porque não acredito no lamento como atitude de encarar o presente. Afinal, Lisboa não morreu no mosh pit turístico em que se tornaram as cidades modernas. Todas elas sobrevivem, tornando-se piores ao mesmo tempo que também resistem ao pior que lhes é imposto. Lisboa é uma cidade e cidades duram mais do que os cidadãos de hoje.
Quando na quarta-feira passada soube do acidente no Elevador da Glória, fiquei incrédulo. Inevitavelmente desfilaram memórias na minha cabeça. Voltou 1994 e todos os anos depois, cada vez mais distantes daquela calçada íngreme mas nunca esquecidos dela. Por um lado, muitos de nós abandonámos lugares destes às hordas que em tour-zombie se apoderaram deles. Por outro, eles nunca deixaram de ser nossos porque a nossa história só se apaga quando a queremos negar. E nunca ninguém quis negar o Elevador da Glória. Nestes dias pensei ainda mais na cidade que mais amo e como desejo que ela se erga sempre de novo. Assim fará, estou certo.