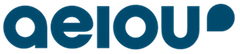O celibato na Igreja Católica Oriental e Ocidental


Nem sempre foi obrigatório o celibato dos presbíteros católicos pois, nos primeiros tempos da história da Igreja, também os homens casados eram admitidos ao sacerdócio. Este costume manteve-se na Igreja católica oriental, mas não na Igreja católica latina, na qual o celibato é condição sine qua non para a ordenação sacerdotal.
O precedente da Igreja primitiva, o exemplo da Igreja católica oriental, o recente escândalo dos abusos de menores por sacerdotes, bem como a escassez de clero celibatário relançaram a questão da obrigatoriedade do celibato na Igreja católica latina.
Para este efeito, pareceu oportuno entrevistar o Papa São Paulo VI (*), que dedicou ao celibato sacerdotal uma das suas mais importantes encíclicas.
– Ao princípio, a Igreja católica não exigia o celibato aos candidatos ao presbiterado. Alguns Padres da Igreja, os primitivos escritores eclesiásticos, parecem até mais inclinados à ordenação de homens casados do que de homens solteiros …
– “A estreita ligação – dizem alguns – que os Padres da Igreja e os escritores dos tempos passados estabelecem entre a vocação para o sacerdócio ministerial e a sagrada virgindade tem a sua origem em mentalidades e situações históricas muito diferentes das do nosso tempo. Lemos, na verdade, muitas vezes, nas obras dos Padres [da Igreja], que eles aconselham os sacerdotes mais a moderar o uso do matrimónio do que a guardar o celibato” (nº 6).
– Pode-se então dizer que a tradição do celibato eclesiástico não é apostólica, nem tem as suas raízes na primitiva Igreja?
– “Na antiguidade cristã os Padres da Igreja e os escritores eclesiásticos dão testemunho da difusão, tanto no Oriente como no Ocidente, da prática livre do celibato entre os ministros sagrados, pela sua grande conveniência com a dedicação total deles próprios ao serviço de Cristo e da sua Igreja” (nº 35).
– Mas a obrigação do celibato na Igreja latina é relativamente tardia, não é?
– “A partir dos fins do século IV, a Igreja do Ocidente, pela intervenção de vários Concílios provinciais e dos Sumos Pontífices, corroborou, desenvolveu e sancionou esta prática” (nº 36).
– A quem coube a iniciativa de propor o celibato na Igreja católica latina?
– “Foram sobretudo os supremos Pastores e Mestres da Igreja de Deus, guardas e intérpretes do património da fé e da santidade dos costumes cristãos, que promoveram, defenderam e restauraram o celibato eclesiástico nas sucessivas épocas da história, mesmo quando se manifestavam oposições no próprio clero, e os costumes de uma sociedade decadente não eram favoráveis ao heroísmo da virtude.” (nº 36).
– No Oriente, pelo contrário, sempre se manteve e mantém, tanto na Igreja católica oriental como na Igreja ortodoxa, a disciplina do celibato opcional e, por isso, para além dos padres celibatários, também há padres casados. Não seria mais saudável que na Igreja católica latina igualmente ambos pudessem coexistir?
– “Não será inútil ainda observar que, mesmo no Oriente, só os sacerdotes celibatários são ordenados Bispos, e os próprios sacerdotes não podem contrair matrimónio depois da ordenação sacerdotal; o que dá a entender como mesmo aquela veneranda Igreja possui em certa medida o princípio do sacerdócio celibatário e o de uma certa conveniência do celibato para o sacerdócio cristão, de que os Bispos possuem o cume e a plenitude.” (nº40).
– Não obstante esse apreço, também na Igreja católica oriental, pelo celibato sacerdotal, não se pode negar que, na Igreja católica ocidental, há um crescente interesse pela revisão do estatuto do clero secular, nomeadamente no que respeita à obrigatoriedade do celibato…
– “Os Sumos Pontífices dos últimos tempos desenvolveram o seu mais ardente zelo e esforço doutrinal para esclarecer e estimular o clero na prática desta observância.” (nº 37).
– Mas o Papa São João XXIII, ao convocar o Concílio Vaticano II, não pretendeu modernizar a Igreja, nomeadamente no que respeita ao celibato sacerdotal?
– “Não queremos deixar de render particular homenagem à piedosa memória do nosso imediato Predecessor [o Papa João XXIII], ainda vivo no coração dos homens, que pronunciou, no Sínodo Romano, com a aprovação sincera do nosso clero de Roma, estas palavras: ‘Aflige-nos que alguns possam imaginar que a Igreja Católica deliberadamente, ou por conveniência, virá a renunciar aquilo que, ao longo dos tempos, foi e continua a ser uma das glórias mais nobres e mais puras do seu sacerdócio. A lei do celibato eclesiástico e o cuidado de a fazer prevalecer evoca sempre os combates dos tempos heróicos, quando a Igreja de Cristo teve de lutar e conseguiu fazer triunfar a sua gloriosa trilogia, emblema constante de vitória: Igreja de Cristo livre, casta e católica’ (João XXIII, Alocução ao Sínodo Romano, 26-1-1960, AAS, 52, 1960, p. 226).” (nº 37).
– É frequente dizer-se que a imposição do celibato na Igreja católica latina é uma das principais razões para os abusos de menores pelo clero católico, bem como para a falta de vocações sacerdotais na Igreja, como, aliás, Vossa Santidade reconheceu: “Manter o celibato sacerdotal na Igreja causaria, por outro lado, gravíssimo dano onde a escassez numérica do clero, reconhecida e deplorada pelo próprio Concílio Ecuménico Vaticano II, provoca situações dramáticas, impedindo a plena realização do plano divino de salvação, pondo, por vezes, em perigo a própria possibilidade do primeiro anúncio do Evangelho. Muitos, na verdade, julgam que esta grande escassez de sacerdotes provém da obrigação de guardar o celibato” (nº 8).
– Com efeito, o celibato obrigatório afasta muitos católicos do sacerdócio …
– “Nosso Senhor Jesus Cristo não hesitou em confiar a um pequeno número de homens, que todos julgariam insuficientes em número e qualidade, a esmagadora missão de evangelizar o mundo então conhecido, e a esse ‘pequeno rebanho’ ordenou que não temesse porque, por Ele e com Ele, graças à sua assistência constante, conseguiria a vitória sobre o mundo. Jesus advertiu-nos ainda que o reino de Deus tem em si mesmo uma força íntima e secreta que lhe permite crescer e chegar à colheita sem que o homem o saiba” (nº 47).
– Mas, essa confiança na providência divina não pode esconder uma certa inércia e grave imprudência em relação às vocações sacerdotais?!
– “A messe do reino de Deus é grande e os operários são poucos ainda hoje, como no princípio; nunca foram em número tal que o julgamento dos homens os achasse suficientes. Mas o Senhor do reino manda que se reze para que seja o Senhor da messe a enviar operários para o seu campo. Os projectos e a prudência do homem não podem sobrepor-se à misteriosa sabedoria daquele que na história da salvação desafiou a sabedoria e o poder do homem com a sua loucura e a sua fraqueza” (nº 47).
(*) Todos os textos entre aspas e em itálico procedem da Encíclica SacerdotalisCaelibatus, do Papa São Paulo VI.