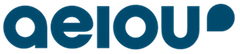Gelados e sorvetes: novos hábitos à mesa (séculos XVII-XVIII)

Não obstante a enorme variedade de doces produzidos no Portugal do passado, sorvetes e gelados nunca integraram a doçaria tradicional do país, conhecida, em especial, pelos preparados à base de ovos e de frutos. Mesmo assim, fizeram parte dos consumos requintados das elites, acompanhando as modas europeias.
Gelados e sorvetes na Europa
Apesar de haver uma tradição antiga de produção de sorvetes, só a partir do século XVI se encontram informações mais fundamentadas. Aparentemente, no século XIII, Marco Polo teria observado bebidas frias na China, podendo ter sido o responsável pela sua chegada à península itálica. Em Florença, durante o governo de Cosme I de Médicis (1537-1574), o arquiteto Bernardo Buontalenti (1531-1608) experimentou uma mistura que revolucionou os doces frios: leite, mel, gema de ovo e um toque de vinho. Passou a haver a convicção de que tudo se poderia gelar, incluindo as matérias gordas, tais como o leite e os ovos. Nasciam os gelados, que se juntavam aos sorvetes. Na definição de Luciana Polliotti, o gelado é todo o doce fresco cuja base é composta por leite, nata, ovo, açúcar e aromatizantes; enquanto o sorvete é um produto fresco composto por álcool, fruta ou especiarias em xarope de açúcar. Gelados e sorvetes têm consistências diversas e um papel diversificado no menu. Em poucas e precisas palavras o sorvete bebe-se e o gelado come-se.
Em 1547, Catarina de Médicis (1519-1579), ao casar-se com o futuro Henrique II de França (1519-1559), teria sido responsável pelo transporte dos conhecimentos acerca de gelados e sorvetes, através de Giuseppe Ruggeri, o seu gelatiere. Estavam criadas as condições para a difusão entre as elites de novos produtos de luxo para as sobremesas. No final do século XVII, os gelados tornaram-se populares em França, especialmente, nos cafés. Foi um siciliano, conhecido como Procope – que, em 1674, abriu um na rua de Tournon, transferido para a rua de l’Ancienne Comédie, em 1684 –, que muito contribuiu para que os sorvetes e os gelados se tornassem a última palavra em luxo alimentar, em Paris, e, posteriormente, se popularizassem. Tinha começado a globalização dos gelados e sorvetes na Europa.
Na mesma centúria, sorvetes e gelados entraram nos receituários europeus. Os primeiros preparados, neste caso designados como águas de frutos, como por exemplo morangos, framboesas ou cerejas, de entre outras, constam da obra de Nicolas Lemery (1645-1715) intitulada Recueil de curiosités rares et nouvelles des plus admirables effets de la nature & de l’art, cuja primeira edição foi feita em Paris, por Louis Vendosme, em 1676. Ensinavam-se os leitores a gelar as referidas águas preparadas com sumo dos frutos, água e açúcar com recurso a sorveteiras, gelo e palha. Por seu lado, Antonio Latini (1642-1696) foi autor de Lo scalco alla moderna, overo l’arte di ben disporre li conviti, con le regole più scelte di scalcheria, insegnate, e poste in prattica, à beneficio de’ professori, ed altri studiosi, impresso em Nápoles, por Antonio Parrino e Michele Luigi Mutti, nos anos de 1692-1694. Num dos volumes, apresentou igualmente algumas receitas de águas para gelar.
A produção de gelo em Portugal
Em Portugal deteta-se o gosto pela utilização da neve na alimentação pelo menos desde o século XVI, embora ligada inicialmente a fins pretensamente medicinais. D. João III (1502-1557) costumava beber água com neve, prática que abandonou poucos dias antes de falecer. Em 1609, Manuel Severim de Faria, chantre de Évora, ao passar pela serra da Estrela, comentou o transporte de neve para a corte, enquanto o inventário dos bens de D. Pedro II (1648-1706), fez referência a um instrumento para refrescar bebidas. A moda será particularmente notada no século XVIII, chegando a Lisboa neve e gelo provenientes das serras da Estrela, da Lousã e de Montejunto, neste caso com a vantagem de se encontrar a curta distância da capital. O abastecimento era feito através dos neveiros, mercadores que, através da celebração de contratos, se comprometiam a abastecer a corte ou um determinado local, durante os meses estivais.
A neve recolhida na serra da Estrela era acondicionada em palha e transportada em cestos e caixotes carregados por animais e depois em carros puxados por bois até aos portos fluviais. O resto do percurso era feito de barco. Ao chegar ao destino era colocada em casas ou depósitos para que particulares ou proprietários de estabelecimentos a pudessem adquirir. Desde Filipe III (1578-1621) que os sucessivos monarcas procuraram ter sempre neve ao seu dispor. Daí o estabelecimento de contratos, a construção e inspeção dos poços e as facilidades concedidas para instalar manufaturas de produção e conservação de gelo.
Os poços da serra da Estrela foram inspecionados em 1732, por João Baptista Livre. D. João V procurava, assim, saber se era necessário construir mais alguns, para que não faltasse neve. Na capital também eram necessários espaços destinados ao armazenamento. Sabe-se que, em 1732, D. João V tinha mandado abrir dois poços, ficando o arquiteto João Baptista Barros encarregado de indicar a localização dos mesmos. O local escolhido para um deles, presumivelmente o único então construído, foi o castelo de São Jorge, em Lisboa. Antes, já havia poços perto da Graça. As obras, iniciadas no mesmo ano de 1732, chegaram a estar ameaçadas por falta de verbas.

Poços de gelo na serra de Montejunto (Fotografia de IDB).
Na serra de Montejunto, o gelo começou a ser produzido durante o século XVIII. Atualmente, são visíveis 44 poços, os restantes estão soterrados. O gelo era produzido através do congelamento natural da água, em geleiras, garantindo a produção em situações de ausência de neve. Julião Pereira de Castro parece ter tido o monopólio dos negócios da neve e do gelo nas três serras, Estrela, Lousã e Montejunto, entre 1757 e 1782. O empreendedor recolhia e explorava um recurso natural, fabricava e comercializava gelo, por grosso e a retalho. A produção apresentava-se como uma manufatura de sucesso, que implicava conhecimentos acerca do clima e das regras de recolha, produção, ensilagem e transporte. O consumo era inicialmente sazonal, de maio a outubro. A partir do momento em que se produziu gelo em ambiente rural, em quantidades relevantes para fornecer à corte e à cidade de Lisboa um produto de luxo, pôde alargar-se a todo o ano. A construção de instalações adequadas à produção natural de gelo foi feita de acordo com modelos existentes na época, mas adaptados ao clima e à exposição solar na serra de Montejunto, a uma curta distância da capital.
Nos tanques a água não podia ter mais de 12 centímetros de profundidade e a partir de setembro já se podia laborar. Isto é, as temperaturas permitiam começar a produzir gelo. Havia depois que esperar as placas ficarem rijas para poderem ser retiradas por cerca de 30 homens que carregavam, cada um, uma placa de 30 a 40 quilos de cada vez, antes do nascer do sol. Na casa de armazenamento do gelo, três homens calcavam-no e depositavam-no no silo principal para ficar mais compacto e ir enchendo. A manufatura tinha a designação real, pois fornecia o rei e a corte. Laborou até aos finais do século XIX.
E os novos hábitos
O gosto pelas bebidas frescas deu origem a novos hábitos e a novos objetos, nasceram os refrescadores de garrafas e os de copos. No século XVII, já se utilizavam tinas com água e neve, que se colocavam no chão junto da mesa, nas quais se introduziam várias garrafas. Usavam-se também taças de prata ou porcelana, com os bordos crenados, onde se colocavam os copos em posição invertida, seguros pelos pés. Na centúria seguinte, passaram a existir taças de vidro individuais, colocadas do lado esquerdo do prato, para os copos. Só no final do século, surgiu o refrescador cilíndrico com duas asas e tampa, de porcelana. Nele se serviam sorvetes e frutas frescas à sobremesa.
A sorveteira aparece descrita com pormenor no primeiro livro de doçaria portuguesa, publicado em 1788, a Arte nova e curiosa para conserveiros, confeiteiros e copeiros. Nele explicou-se o seu uso e forneceram-se nove receitas de preparados cuja presença da neve era indispensável. Antes, Domingos Rodrigues, na sua obra Arte de cozinha, publicada pela primeira vez em 1680, apresentou uma receita de sorvete, confecionada com água, açúcar, sumo de limão, pó de aljôfar, pó de coral, pó de ouro, almíscar, âmbar e pedra-basar, mas não referiu que o preparado fosse objeto de refrigeração. Ou seja, estamos perante a utilização do termo sorvete na aceção de xarope. Anos mais tarde, em 1780, Lucas Rigaud publicou o Cozinheiro moderno ou nova arte de cozinha, obra onde aparecem xaropes e “águas para verão e para sorvetes”. Neste último caso, estamos perante receitas nas quais entram fruta desfeita, açúcar e água, ao mesmo tempo que se utiliza um recipiente próprio, ou seja, uma sorveteira. Um outro clássico do passado, a Arte de cozinha, de João da Mata, de 1876, apresentou diversas receitas nas quais a técnica de gelar teve particular importância, nomeadamente, “bomba de neve à brasileira” (receita dedicada à família imperial do Brasil), composta por uma massa folhada recheada com dois gelados, um de castanhas e outro de frutas diversas: ananás, jaca, jambu, abricó, alperces, pêssegos e melão. Menos elaboradas são as receitas de gelado de tangerina e as quatro receitas de sorvete, de leite, morangos, laranja e melão. A utilização da sorveteira foi ainda cuidadosamente explicada. Parece plausível que, no caso português, os aperfeiçoamentos italianos tenham chegado via Castela, sobretudo no período dos Filipes (1580-1640) e via França, no que se refere aos tratados de culinária, uma vez que alguns termos denunciam a influência francesa.
Na segunda metade do século XIX, foi introduzida a refrigeração mecânica e outras alterações, que permitiram a melhoria da fabricação dos gelados. O grande impulso, a nível industrial só se pôde dar no século XX. Efetivamente, se Ferdinand Carré (1824-1900) foi o primeiro a desenvolver uma máquina que podia fazer cubos de gelo, invento que foi mostrado na Grande Exposição de Londres, de 1859, foi só alguns anos mais tarde, em 1871, que Charles Tellier (1828-1913) desenvolveu a técnica de congelação para o transporte marítimo de carnes. O sucesso obtido levou ao aperfeiçoamento das cadeias de frio, sobretudo com Clarence Birdseye (1886-1956), a partir de 1929, começando a ser possível manter a cor e o sabor dos alimentos congelados, mais próxima dos congéneres não sujeitos ao frio. Estas melhorias repercutiram-se no fabrico dos sorvetes e dos gelados. A produção artesanal, destinada ao consumo próprio e à venda ao público, passou a coincidir com a produção industrial, cujos primeiros passos na Europa e nos Estados-Unidos, tiveram lugar na primeira metade do século XX.
Para saber mais: BRAGA, Isabel M. R. Mendes Drumond, Gelados: história de uma doce e fresca tentação, Sintra, Colares Editora, 2003. BRAGA, Isabel Drumond, “1717 – A neve: um luxo à mesa”, BRAGA, Isabel Drumond (coord.), História global da alimentação portuguesa, Lisboa: Temas e Debates, 2023, pp. 259-262.
[Os artigos da série Portugal 900 Anos são uma colaboração semanal da Sociedade Histórica da Independência de Portugal. As opiniões dos autores representam assuas próprias posições.]