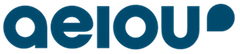Impressionante: adeptos invadem relvado para festejar promoção do Hamburgo e até partiram… a barra da baliza

São imagens impressionantes aquelas que chegam da Alemanha. O Hamburgo aplicou uma goleada (6-1) na receção ao Ulm e garantiu a promoção ao principal escalão do futebol alemão sete temporadas depois, um motivo deveras suficiente para levar os adeptos à loucura. A festa foi tanta que nem a barra de uma das balizas aguentou. Ora veja.