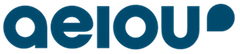Hiroshima, 80 anos depois: Como a bomba atómica dizimou uma cidade e mudou o mundo num piscar de olhos?


Apesar da destruição sem precedentes, a desejada rendição do Japão não aconteceu e, três dias depois, militares norte-americanos num segundo bombardeiro B-29 lançaram outra bomba atómica sobre Nagasaki, matando cerca de 40 mil pessoas. A segunda bomba atómica, o “Fat Man” tinha uma potência mais de duas vezes superior à anterior.
No dia seguinte, os aliados apresentaram uma proposta de rendição: os países respeitariam a soberania do imperador Hirohito se o Japão cumprisse as diretivas dos aliados. A 14 de agosto, o imperador concordou com os termos e o Japão acabaria por render-se oficialmente a 2 de setembro.
Foi a primeira vez – e até agora única – que bombas atómicas foram usadas contra civis. Mas os cientistas norte-americanos estavam confiantes de que funcionaria, porque tinham testado uma igual no Novo México um mês antes. Isso fazia parte do Projeto Manhattan, um esforço científico secreto financiado pelo governo federal que produziu as primeiras armas nucleares.
O que poderia ter sido um único ano de desenvolvimento de armas nucleares deu início a décadas e décadas de proliferação nuclear – um desafio para vários países e profissões.