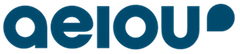O Princípio de Pareto e as mudanças do Governo


Sem surpresa, os anúncios de mudanças sectoriais que têm sido feitos pelo Governo são sucedidos por uma série de críticas, a generalidade delas no mesmo sentido. É normal, faz parte da vida em democracia. Algumas críticas serão mais pertinentes e certeiras do que outras. Muitas decorrem do velho princípio, também comum em democracia: tudo o que o campo político adversário faz é mal feito e pretende apenas ser um “ataque” a isto ou àquilo. Outras ainda partem de uma leitura parcelar e apressada das mudanças propostas, muitas vezes com base no título de uma notícia ou na inabilidade de comunicação do Governo.
Nas últimas semanas assistimos a esse fenómeno comum acerca das propostas de mudança nas leis do trabalho e nas regras da imigração.
Em todas elas, o foco principal das críticas incidiu sobre aspetos reduzidos e pouco centrais de tudo o que está em causa em cada um desses dossiês.
No caso das leis do trabalho, a indignação centrou-se primeiro nas alterações ao luto gestacional e logo depois nos direitos relacionados com a amamentação.
Nas leis da imigração, o centro da polémica esteve nas regras do reagrupamento familiar — que acabaram por ser chumbadas pelo Tribunal Constitucional.
A propósito de tudo isto lembrei-me do Princípio de Pareto, que nos diz que a maioria dos efeitos (80%) é produzido por um número reduzido de causas ou factores (20%).
O economista italiano Vilfredo Pareto notou pela primeira vez esta relação sobre a riqueza no seu país: 80% era possuída por 20% da população.
Desde então, o seu princípio já teve mil e uma adaptações: gastamos 80% do tempo a tratar de assuntos que têm 20% de importância; 80% das receitas são obtidas com 20% dos clientes; 80% do emprego é criado por 20% das empresas; 80% do IRS é pago por 20% das famílias e por aí fora.
Claro que os números 80/20 não são mágicos nem são aqui o importante, mas sim a ideia de que uma pequena parcela das causas gera uma larga fatia dos efeitos.
Sem desprezar o impacto nas vidas das pessoas diretamente envolvidas, os direitos da amamentação e do luto gestacional não são o mais importante na reforma laboral nem é da sua alteração que resultará uma economia mais dinâmica; e o reagrupamento familiar é uma parcela muito pequena do aumento descontrolado do número de imigrantes.
Para além do escrutínio público e das críticas fundamentadas, o Governo sabe que vai enfrentar resistências de corporações, interesses instalados, opositores políticos e partes interessadas em cada mudança que queira fazer.
O que se está a passar com as mudanças propostas para a Fundação da Ciência e Tecnologia é, a esse nível, muito ilustrativo. Durante décadas, a FCT era um exemplo de mau funcionamento, de atrasos no pagamento de bolsas e de geração de instabilidade na vida dos bolseiros. Perdeu-se a conta aos concursos impugnados, criticados ou polémicos e muitas das denúncias desse caos vinham precisamente dos cientistas e de organizações que dizem representá-los. Agora que o Governo apresenta uma mudança da organização, são essas mesmas vozes que se opõem e defendem o status quo.
O Governo sabe também que uma boa parte das reformas se ganham ou perdem na opinião pública e na forma como a mediana sociológica do país as entender.
Por fim, o Governo não desconhece que as tentativas de mudança causam desgaste político imediato em nome de um eventual reconhecimento futuro — se as mudanças foram efetivas e eficazes.
Se se perder nos aspetos que geram 95% do desgaste apesar de terem apenas 5% de importância de cada dossier, rapidamente o Governo vai perder o foco e em pouco tempo estará ocupado a apagar fogos e a fazer a gestão de danos das pequenas polémicas públicas.
Se está disponível para assumir o custo das mudanças, então que se concentre em assuntos estruturais que podem fazer mesmo a diferença.