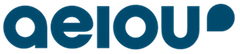EUA: Juíza trava deportação de crianças migrantes à última hora


Uma juíza federal norte-americana suspendeu este domingo a deportação de um grupo de crianças migrantes da Guatemala, algumas das quais já se encontravam a bordo de aviões, após um recurso de emergência apresentado durante a madrugada por advogados de defesa.
O episódio dramático fez lembrar outras ações judiciais de última hora contra deportações durante a administração Trump.
Já segue a Informação da Renascença no WhatsApp? É só clicar aqui
Segundo o National Immigration Law Center (NILC), uma organização de defesa dos direitos dos migrantes, o pedido de bloqueio da remoção de 10 menores não acompanhados, com idades entre os 10 e os 17 anos, foi submetido ao Tribunal Distrital de Washington, D.C. pouco depois da 1h00 da manhã (hora local).
A juíza Sparkle Sooknanan revelou que foi acordada às 2h35 da manhã para ser informada do caso e realizou uma audiência de urgência, rara num fim de semana prolongado devido a feriado nos EUA. Sooknanan emitiu uma ordem temporária de restrição que impede a deportação das crianças durante 14 dias.
Posteriormente, a magistrada alargou a medida a todos os menores não acompanhados da Guatemala, atualmente sob custódia do Departamento de Saúde e Serviços Humanos dos EUA (HHS).
Segundo a queixa apresentada, o número total de crianças afetadas pode ascender a várias centenas.
A decisão representa um novo embate judicial contra as políticas de deportação da era Trump, num momento em que se volta a discutir a proteção de menores migrantes nos EUA.